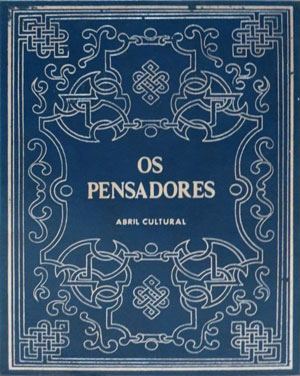Escrevi
esse comentário há dois anos atrás, como parte do material didático das minhas
aulas de Metodologia Filosófica para os alunos de licenciatura da UFSM. Costumo
reservar duas aulas do programa da disciplina para falar do cinema como uma
ferramenta de análise e investigação de problemas filosóficos. Mas o cinema importa
para a filosofia não somente nesse aspecto metodológico ou instrumental. Para
aqueles que estiverem interessados em conhecer mais sobre as relações do cinema
com a filosofia, recomendo o texto instrutivo e didático do Prof. Jônadas
Techio, da UFRGS. O texto
está aqui.
Lilies of the field (1963)
é um filme difícil de classificar. Ele foi um dos primeiros filmes americanos a
ter um ator negro (Sidney Poitier) no papel principal. No entanto, ele não é um
filme sobre a história da população negra americana ou sobre o racismo norte-americano;
não é nem mesmo um filme sobre religiosidade ou uma crítica ao consumismo
americano e libertação através do conforto material que caracterizou o american dream - em oposição ao caráter
frugal, a disciplina e persistência característica das regras monásticas (a
história toda se passa num assentamento de freiras numa região semi-desértica
do Arizona). Ao mesmo tempo, seria um erro negar que esses temas não sejam parte
do debate que o diretor desejou promover. O tom geral parece ser de comédia,
mas há muitas passagens do riso e alegria para o silêncio e a melancolia da
perspectiva dos principais personagens, o que também torna difícil dizer que o
filme foi “feito para rir”. E são essas pequenas variações e sutilezas que fazem de Lilies
of the Field uma ilustração delicada da própria vida, com seus altos e
baixos, com os chamados do mundo e da solidão e, como espero mostrar, com
intervalos importantes para a percepção da, normalmente esquecida ou ocultada,
fragilidade e fraqueza humana. Abordarei dois pontos gerais nesse comentário: o
primeiro diz respeito ao sentido de sonho e solidariedade que o filme revela a
partir da fé simples das pessoas. Há um fio de irmandade e solidariedade que
pretende se impor sobre todo tipo de egoísmo (o carpinteiro, o empreiteiro, a
madre superiora, todos vão, aos poucos, encontrando espaço para “abrigar o
outro”). O segundo aspecto é a sutileza da abordagem das questões raciais, que
vou abordar rapidamente.
Poitier foi o primeiro ator negro a receber um Oscar por
esse trabalho. Ele faz o papel de Homer Smith, um carpinteiro itinerante (sem
emprego fixo). Durante uma passagem pelo deserto do Arizona, ele faz uma parada
numa missão religiosa para colocar água no radiador de seu carro. A madre
superiora pede que ele conserte o telhado da sede da missão. Entendendo que
seria contratado, ele aceita o trabalho. Na manhã seguinte, ela se recusa a
pagá-lo e diz que, como resposta a suas preces, Deus o enviou para construir sua capela. Smith
tenta convencer a madre a pagá-lo citando o Evangelho de São Lucas e Madre
Maria responde pedindo a ele que leia outro verso bíblico do Sermão da
Montanha: “Olhai os lírios do campo, como ele crescem; não trabalham e nem
fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda sua glória, se vestiu como
qualquer deles”. Essa é a passagem que dá título ao filme. Ela significa, entre
outras coisas, que nossa vida não pode ser resumida aos tesouros da terra.
O assentamento das freiras não tem qualquer recurso; elas sobrevivem
comendo alguns vegetais que o clima árido proporciona, pão, ovos e leite. Mesmo
assim, Smith resolve, por razões que irão, aos poucos, tornando-se mais claras,
construir a capela para a comunidade (um gesto que parece transformar vários
personagens descrentes, especialmente o padre da comunidade). Há uma discussão
ao longo do filme entre o empreiteiro e o dono do restaurante (dois
materialistas, digamos assim) sobre as razões que o levaram a construir uma
capela sem receber nenhum pagamento em troca. A sugestão é que se trata de um
seguro para outra vida, no caso dela existir. Mas Smith não parece ter esse
tipo de convicção. Ele vive a vida de maneira aberta, alegre e hedonista. De
algum modo, no entanto, seu coração é tocado pela persistência e abnegação das
monjas e pelo desejo de deixar uma marca verdadeira, ainda que simples, no
mundo. Essas duas razões parecem tê-lo levado a tentar construir sozinho a
capela e depois a aceitar a colaboração de outros trabalhadores. O filme, nesse
aspecto, adota um argumento muito comum nos romances de formação (como Os Anos
de Aprendizagem de Wilhelm Meinster, de Goethe): o personagem principal vai
passando por um conjunto de pequenas transformações, de um certo estado do eu
para outro, superior. Mas não me parece claro que haja realmente o
reconhecimento de um estado superior do eu que seria valioso ou recomendado
cultivar. Há, sim, deleite ou regozijo dos personagens com a dedicação às
tarefas não-instrumentais, as únicas que fazem a vida valer a pena, dirá
Thoreau, mas não parece que uma receita de vida esteja sendo oferecida. A razão
dessa avaliação é que as transformações dos personagens, tanto no história do
herói de Goethe, quanto no filme, não são fáceis de avaliar. Está claro que não
é a transformação de alguém que está perdido e acaba encontrando-se consigo
mesmo, com o próprio destino, como ocorre frequentemente nas lendas de heróis.
Smith é um personagem enigmático muitas vezes e não há indícios que sua
dedicação à causa da irmã tenha algum fundamento de longo prazo (como uma
conversão) ou adoção de um tipo de vida mais piedosa. Assim como aconteceu com
Wilhelm Meinster, que não reconhecia em si um eu talhado para o mundo burguês
dos negócios (que herdou do pai), não podemos dizer afinal se ele aprendeu
algo, se encontrou seu “eu verdadeiro”, pois a história continua em aberto,
ilustrando um eu dinâmico, que não parece ser capturado nas imagens
tradicionais (platônicas) do percurso da alma do não-ser para o ser, da sombra
para a luz, da inautencidade para a autenticidade. Essa indefinição é um
central para os objetivos de Lillies of
the Field. Por isso, há muitos sentidos em que podemos interpretar a
determinação da Madre Maria e a resistência inicial de Smith até o momento em
que a resistência é transformada em envolvimento e orgulho pelo trabalho realizado.
Uma alternativa seria conceber esse conflito entre almas como parte da
intervenção divina, de nossas vidas como sendo a vida de crianças brincando nos
jardins do Senhor. Há muita beleza nessa imagem, se pensarmos em nossas vidas
modernas, de pessoas ensimesmadas, vaidosas, cheias de si e inteiramente
dedicadas às suas vidas materiais, de conquistas um tanto quanto vazias. Um
mundo de fé simples e sincera, parece significar, nesse caso, o reconhecimento
do mistério da vida, de devoção gratuita às obras do amor. O que estou querendo
dizer é que estamos profundamente tomados por uma imagem do eu produtivo, das
relações e funções como parte de rotinas de obrigação e trocas, enquanto
deixamos de reconhecer um eu que extrai significado e satisfação pelo simples
fato de estar aí, em meio as coisas, tendo experiências mais e menos
significativas. (Imagine, por exemplo, a tarefa de dar uma fundamentação
utilitarista à dedicação de pais ou de pessoas que cuidam e convivem com
animais. Não há nenhum retorno ali, além da ação e daquilo que a constitui).
Parte dessa imagem poderia ser chamada aqui para entender as motivações de
Smith. Em lugar de pensar a vida como um lugar sem sentido, de absurdo, o filme
parece especular com a possibilidade de confiar nas obras do amor, na fé dos
homens simples, numa atitude de gratidão e bondade despreocupada de retornos. O
canto batista entoado por Homer e o coro das monjas, lembrando um Cristo
menino, inocente, na manjedoura, pescando homens para realizar seu trabalho
parece ter esse sentido. Nós poderíamos chamar essa primeira parte de dimensão
ética ou existencial. Mas há, no filme, também uma dimensão política,
construída através das diferentes alusões à questão racial americana.
Há várias alusões raciais em Lillies of the Field. Todas elas são sutilmente construídas. Uma
das mais emblemáticas aparece logo no início, a imagem viril e máscula de
Smith, que tira a camisa para lavar o corpo depois do trabalho. O que esperar
de um homem negro no deserto em meio a um grupo de freiras? Na cultura
contemporânea, especialmente em relação ao corpo negro, as explorações
(literárias e na cultura popular) vão, geralmente, na direção do erotismo e sexualização.
A escolha de expor o corpo num contexto
puritano pode ter partido da pretensão de lembrar a violência e sofrimento dos
castigos que foram impostos aos escravos nos USA e noutros países que
permitiram a escravidão. A cena completa, no entanto, deixa claro que o que
importa ali é um corpo negro numa postura afirmativa, pronto para o trabalho
honesto e competente. Nesse sentido, como explica o blog blackhistoryreview, “O
filme aborda com muita sutileza o racismo, tão sutilmente que alguéns
espectadores podem não perceber o tema. Como outros já notaram, ela não carrega
nenhuma raiva que poderia ser esperada de um filme dos anos 60 sobre interação
racial. (in: blackhistoryreview.com). E justamente essa opção, de mostrar a
confiabilidade e auto-confiança de Homer, talvez seja a estratégia central de
resposta do filme ao racismo (uma estratégia
semelhante, embora mais explícita em muitos momentos, parece estar presente num
outro filme de Poitier: Guess who comes
to dinner?). Homer não é nem mais e nem menos por ser negro. Ele é o que
ele é a despeito de sua cor, tão confiante em suas habilidades como qualquer
outro herói de qualquer outro filme. Quando o empreiteiro branco o chama de
“boy” (garoto ou moleque), Homer responde do mesmo modo: chama-o de “boy” no
mesmo tom, embora sem animosidade, assim como qualquer homem poderia fazer com
alguém igual. Essa abordagem sutil das tensões raciais, aliada às circunstâncias improváveis (um homem negro num
convento) mostram como é difícil demarcar o filme. Ele poderia ser, nesse
aspecto, um filme político, que apresenta uma alternativa para os conflitos
étnicos americanos.
Além
do emblema do corpo, um outro pressuposto fundamental para entender a sutileza
e profundidade das questões raciais tocadas no filme consiste em reconhecer que
os fenômenos do racismo e do preconceito se dão no plano das representações
simbólicas (o estigma), as quais convertem-se em vivências particulares de
negação ou sujeição daquele que sofre a discriminação ou preconceito.
Representações e práticas atuam diretamente na construção de identidade e
personalidades. Quem sofre o preconceito são pessoas discriminadas, são ‘eus”
não recebidos em seus espaços de convivência e manifestação individual e
material, como seres intelectuais e como seres produtivos. Através do
preconceito, pessoas deixam de “abraçadas pelo mundo”, elas podem senti-lo como
um lugar incômodo e perturbador, um lugar onde seria melhor não estar. O
protótipo desse sentimento é o isolamento, a ausência de irmandade, a
diferença, a separação. O filme lida o tempo todo com o jogo de proximidade e
afastamento. As pessoas não são intimas, em nenhuma circunstância, mas se
reconhecem admirando ou mudando sua perspectiva acerca do “outro”, do não-eu.
Há uma lição pessoal e racial, nesse sentido, nos conflitos e admiração mútua
que marcam os dois personagens principais (os personagens fortes de um homem
negro e uma mulher branca). O filme mostra ambos como pessoas parecidas,
firmes, inflexíveis e humanas, capazes de mudar suas perspectivas em contato
com a diferença, num lento aprendizado, aperfeiçoando-se em contato com o outro.
Nesse aspecto, o filme contribui para reconhecer a fraqueza (teórica e moral) dos
racistas: aquelas pessoas que consideram outras pessoas inferiores,
desprezíveis, ou que merecem um tratamento degradante em função de variáveis
raciais como a cor. O filme é pedagógico, nesse aspecto, pois mostra que as
pessoas não são o que nossas convicções negadoras, a dureza ou frieza de nossas
almas, nos convidam a pensar. E o filme parece, nesse sentido, convidar-nos
para uma celebração de nossa humanidade comum, tal como ela é representada na fiesta, onde a bebida e a dança alegre são
o vocabulário de aproximação entre os homens. Há nele, nesse sentido, menos
desencanto, mais esperança, do que no personagem Isaías, do livro Recordações
do Escrivão Isaías Caminha, do escritor brasileiro Lima Barreto.
Uma
outra dimensão do racismo abordada no filme é a dimensão linguística. Tal
dimensão transparece, na cultura comum, através dos xingamentos, das piadas
pejorativas, dos predicados comumente empregados pelos racistas. O repertório
linguístico pejorativo é parte de um estoque de idéias e intenções escondidas
que, conforme a necessidade, podem ser postas em operação. No filme, esse
aspecto aparece principalmente através da figura do empreiteiro que diz
conhecer o “tipo de homem” que Homer é; no
termo “boy” (já denotado) e também quando Homer diz que não sabe se ser chamado
de “gringo” é melhor ou pior do que as outras coisas que já foi chamado.
Todos
esses elementos, descritos de forma rápida e superficial aqui, contribuem para
mostrar que a reflexão sobre os limites e aperfeiçoamento do parque humano é um
desafio constante. Se somos atraídos
pela idéia de um mundo de solidariedade e irmandade, o trabalho pessoal e
existencial, mas também político-social, de elaboração parece constante, sem
fim. No filme, o diretor aposta com convicção na importância de um sentido de
abertura para o outro e no reconhecimento do mistério e fragilidade que ronda
nossas vidas. É a minha aposta também.